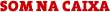Metallica
Death Magnetic
(Baixado na internet)
 No mundo do rock e da música pop ás vezes acontece assim. Uma banda surge como ponta-de-lança de um subgênero, se consagra, cresce tanto que se torna refém daquilo que ajudou a criar. Ao buscar saídas, encontra caminhos inóspitos e foge tanto de suas raízes que, depois de andar em círculos, é preciso voltar. Pois é o que está acontecendo agora com o Metallica, que mergulha de cabeça no bom e velho thrash metal dos anos 80, do qual foi, sem sombra de dúvida, o grande ícone. Não é só o logotipo original que voltou a ser estampado na capa.
No mundo do rock e da música pop ás vezes acontece assim. Uma banda surge como ponta-de-lança de um subgênero, se consagra, cresce tanto que se torna refém daquilo que ajudou a criar. Ao buscar saídas, encontra caminhos inóspitos e foge tanto de suas raízes que, depois de andar em círculos, é preciso voltar. Pois é o que está acontecendo agora com o Metallica, que mergulha de cabeça no bom e velho thrash metal dos anos 80, do qual foi, sem sombra de dúvida, o grande ícone. Não é só o logotipo original que voltou a ser estampado na capa.
Não que este “Death Magnetic” seja algo revivalista, com o grupo fincado numa sonoridade démodé; ao contrário, o Metallica atualiza o som pesado mais 25 anos depois de tê-lo inventado. Está de volta a bateria “cheia” no lugar da “caixa de lata” do álbum anterior; os solos de guitarra, e em doses generosas, em várias camadas sobrepostas; as mudanças de andamentos das músicas; as partes suaves se contrapondo às mais pesadas e velozes; as longas introduções instrumentais; a agressividade vocal, e, enfim, tudo que caracterizou o thrash metal. No mínimo com um “up grade” tecnológico que atualiza a massa sonora criada pelo Metallica, a despeito de ter, nesse disco, os integrantes inspiradíssimos na criação das músicas e respectivos riffs.
Nota-se, também, que se trata, de novo, de um disco “de banda”, uma vez que Rick Rubin é o tipo de produtor que faz sua parte e deixa os músicos se resolverem dentro do estúdio, só passa por lá de vez em quando para ver o que está acontecendo. Diferentemente do interventor Bob Rock, que, se foi o responsável para tornar o som do Metallica mais acessível, com méritos, no “Black Album”, fracassou nos discos que o sucederam – “Load”, “Reload” e “St. Anger”. Ou seja, é como se fosse o Metallica se reunindo como nos tempos em que a banda crescia junto com seu próprio trabalho, sem as amarras que o sucesso costuma trazer a reboque. Natural, então, que isso contribuísse para que a sonoridade do álbum fosse identificada com esses tempos.
Outra fator que dá ao CD a pecha de “atual” é a assimilação de características oriundas dos novos sub-ramos do metal contemporâneo, sobretudo o praticado na Europa, que só veio a se consolidar depois que o Metallica deixou o underground. Um solo mais melódico aqui (“That Was Just Your Life”, “The Judas Kiss”), a urgência tipicamente death metal (“My Apocalipse”) e até um flerte com a chamada “nova onda do metal americano” (“The Judas Kiss”, “The End Of The Line”) acolá são bons exemplos. Na instrumental “Suicide & Redemption”, um certo minimalismo instrumental remete ao Karma To Burn, fato que se verifica também na já citada “The End Of The Line”. Mas em todo o disco o que se salienta pra valer são as palhetadas thrash, mais furiosas que nunca, sobre composições – repita-se – inspiradíssimas.
“Suicide & Redemption” é da estirpe das instrumentais que marcaram época no Metallica (como “Orion” e “The Call Of Ktulu”), pelo peso exageradamente bom que entra em contraste com a delicadeza de acordes cuidadosamente elaborados. Kirk Hammet, aluno de Satriani, volta a mostrar como a guitarra pode fazer as vezes dos vocais com maestria: os dois refrões se distinguem perfeitamente das outras partes da música. Entre eles, evoluções de muito bom gosto e solos de cair o queixo até de quem não é exatamente um fã do grupo, em quase dez minutos de guitarras em maratona. Riffs excepcionais aparecem ainda em “Broken, Beat & Scarred”, “All Nightmare Long”, cuja bateria mais parece uma metralhadora com inesgotável munição, e “Cyanide”.
Outra que já começa trazendo boas memórias é “The Day That Never Comes”, com o início lentinho e cadenciado que consagrou a banda em “Welcome Home (Sanitarium)”, “One” e “Master Of Puppets”, entre outras. Ao mesmo tempo, a sonoridade dessa música tem um “quê” do “Black Album”, prova de que o dito “disco pop” do Metallica ainda tem muito que render para a própria banda. Nessa música os solos e evoluções de guitarra se contrapõem à pesada marcação, num efeito impressionante que realça bom gosto e certa originalidade num lugar onde parecia que tudo já havia sido extraído nos últimos vinte e tantos anos. Um exemplo revigorante de perícia técnica, intuição e talento traduzido em esporro.
Aquela que pode ser considera mais palatável (do ponto de vista pop) é “Cyanide”, cujo refrão já cola na primeira audição, com cadência “dançável” de lembrar “Seek And Destroy” ou mesmo “Wherever I May Roam”. Do lado ruim, a errada já no título “The Unforgiven III” faz a sua parte, muito embora tivesse lugar de destaque em qualquer um dos últimos três discos do Metallica. Sua companheira é “My Apocalypse”, que poderia ter sido melhor desenvolvida, mesmo nos sucintos cinco minutos que sobraram dos gigantes 75 que perfazem o CD.
Por fim, é interessante notar que nesses aproximados 17 anos em que o Metallica deixou o thrash no armário, um sem número de bandas se manteve fiel ao gênero (para usar um termo típico do meio metálico), mas qualquer um desses trabalhos, salvo raras exceções, sequer chega perto dessa porrada sonora agora desengavetada. Prova de que não adianta dominar um formato de arranjar música, é preciso talento para compor grandes canções e arranjá-las dentro dele. Mais: estar num estado artístico-criativo num plano superior em todo o processo de elaboração e gravação, que foi seguramente o que aconteceu com o Metallica nesse retorno triunfante ao lugar de onde ele jamais deveria ter saído. Ou seja, “Death Magnetic” acaba de dinamitar as paredes do beco sem saída em que se meteu o thrash metal. O caminho está aberto.
Tags desse texto: Metallica